Roberto Motta, através de um pequeno texto reproduzido a seguir, nos traz ensinamentos preciosos e importantes para esse início de século XXI, especialmente para o Brasil, cujos membros do poder republicano vigente os esqueceram, ou não aprendeu como é o caso do atual presidente da República. Porém, muitos deles frequentaram os bancos escolares, inclusive de universidades famosas. É hora, é recomendável que todos façam essa leitura e que nunca mais a esqueçam.
Boa leitura.
*. *. *

Um dos erros da modernidade é acreditar que a ideia de direitos humanos nasceu com a Revolução Francesa. Essa ideia é difundida por elites que ignoram o legado das tradições inglesa e americana.
Muito antes de 1789, quando eclodiu a primeira revolução na França, liberdades civis já estavam sendo garantidas por leis, documentos e movimentos políticos graduais e legalistas. Em 1215, na Inglaterra, a Magna Carta foi imposta ao rei João Sem Terra pelos barões feudais.

O documento limitava pela primeira vez o poder do soberano e reconhecia direitos fundamentais dos súditos, garantindo que nenhum homem livre seria preso ou despojado de bens sem julgamento legal.
Não houve guilhotinas, nem revoluções sangrentas, mas estabeleceu-se ali o princípio de que o governo deve respeitar leis.
No século XVII, esse princípio seria posto à prova com a Guerra Civil Inglesa. Entre 1642 e 1651 o rei Carlos I enfrentou o Parlamento em um conflito que misturou disputas religiosas, políticas e sociais.

Carlos I acabou decapitado, a monarquia foi abolida e a Inglaterra virou, por algum tempo, uma república liderada por Oliver Cromwell — que, na prática, se tornou um ditador militar.
Foi esse colapso, e a matança produzida por ele – duzentos mil ingleses seriam mortos no conflito - que inspiraram Thomas Hobbes a escrever Leviatã (1651).

Observando o caos e a guerra civil, Hobbes defendeu que um Estado forte, soberano absoluto, era necessário para garantir a paz. Para ele, o homem em seu estado natural é egoísta e violento. Sem uma autoridade forte viveríamos em guerra constante.
Assim, a liberdade só poderia existir sob um governo que impusesse ordem e cuja autoridade não fosse questionada. Hobbes criou uma justificativa racional para o absolutismo. Na sua obra Hobbes busca compatibilizar duas teorias sobre o poder dos reis que eram discutidas na época.
A primeira era a teoria absolutista, que dizia que o poder real era uma concessão divina, e por isso todos deviam obediência ao monarca. A segunda ideia era a de que o monarca precisava, para governar, do consentimento dos governados.
Hobbes juntou essas duas ideias propondo que o governo era necessário para evitar que a sociedade caísse em um estado selvagem, onde todos guerreavam contra todos. Hobbes justificou o absolutismo sem apelar para a religião ou a moral.

Em 1661 a monarquia inglesa foi restaurada com a coroação de Carlos II. Em 1688, a Inglaterra viveria a Revolução Gloriosa.
Desta vez, sem derramamento de sangue, o rei católico James II foi deposto, e o Parlamento convidou sua filha Mary e seu marido William de Orange para assumir o trono.

Nascia a monarquia constitucional britânica, na qual a supremacia do Parlamento era confirmada. Em 1689 a Declaração de Direitos - Bill of Rights - consagraria direitos como julgamento por júri, eleições livres e proibição de criação de impostos sem a concordância do Parlamento.

Nesse mesmo ano John Locke publicaria sua obra Dois Tratados sobre o Governo, defendendo que todo governo deve existir para proteger os direitos naturais do homem — vida, liberdade e propriedade. Se não cumprir essa função, o governo deve ser substituído.
Locke rompe com Hobbes ao afirmar que o poder vem do consentimento dos governados, não da imposição.
As ideias de Locke são: (1) todos os homens são criados iguais e com os mesmos direitos (2) existem direitos fundamentais, dados ao homem pelo seu criador, que precedem a existência do Estado e independem dele e (3) a função primordial do Estado é preservar esses direitos.

Essas ideias atravessariam o Atlântico e influenciariam os líderes da Revolução Americana, iniciada em 1765. As 13 colônias inglesas da América do Norte, cansadas de impostos e abusos por parte da coroa britânica, proclamaram sua independência em 1776.


Enquanto isso, na França, o filósofo Jean-Jacques Rousseau denunciava a “desigualdade” e propunha a refundação do contrato social. Em sua obra O Contrato Social (1762), Rousseau afirmava que a soberania reside no povo e que uma certa vontade geral deve guiar as leis.
Para Rousseau, o contrato social deveria refletir essa "vontade geral", representando o interesse comum e não apenas a soma das vontades individuais. Para Rousseau o homem era puro e pacífico em seu estado selvagem – ao contrário do que dizia Hobbes – e era corrompido pela civilização.
Era papel do Estado regular a vida e a sociedade e educar o homem para que ele se tornasse um cidadão modelo. Rousseau era um cínico que pregava o que não praticava. natural,
Sua obra "Emílio, ou Da Educação" é um tratado filosófico que explora ideias sobre a educação natural, defendendo que as crianças devem ser educadas de acordo com as etapas de seu desenvolvimento, longe das influências corruptoras da sociedade.
Mas Rousseau não entendia nada de educação de crianças. Ele teve cinco filhos com Thérèse Levasseur, sua companheira de longa data.
Todas as cinco crianças, recém-nascidas, foram abandonadas na porta de um orfanato, um destino cruel em uma época de condições precárias e alta mortalidade. Ainda assim, sua obra influenciou fortemente pensadores, pedagogos e movimentos sociais.

As ideias de Rousseau influenciaram a Revolução Francesa, iniciada em 1789, que se tornou uma orgia de radicalismo e violência. Em nome da liberdade, milhares foram mortos, inclusive líderes da própria revolução.
A guilhotina virou símbolo do terror. Ao final, apesar de toda a retórica e matança, o poder foi concentrado nas mãos de um novo tirano, Napoleão Bonaparte, que tomou o poder em 1799 via um golpe e se declarou imperador em 1804.
Depois de espalhar guerra e destruição por toda a Europa, Napoleão cai e a monarquia é restaurada na França. O país ainda veria mais revoluções e mais sangue: em 1830 (trocando o rei Carlos X por Luís Filipe), em 1848 (trocando o rei por um presidente) e, por fim, a Comuna de Paris em 1871, um governo revolucionário que dominou a capital da França e terminou com 25 mil mortos.
A trajetória francesa é marcada por rupturas violentas, ao contrário da tradição inglesa, que construiu liberdades pela via institucional e legal, e da americana, que fundou uma república duradoura com base em ideias claras de liberdade – e acabou gerando a nação mais rica e poderosa do planeta.

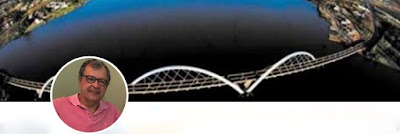
Nenhum comentário:
Postar um comentário